Em entrevista, jurista comenta como descobriu ser herdeiro de um dos maiores proprietários de escravos do Brasil
Por Darlene Dalto / Edição: Bruno Fonseca
A investigação foi feita com apoio do Pulitzer Center
 Foto: Catarina Bessell/Agência Pública.
Foto: Catarina Bessell/Agência Pública.
“Não é possível que alguém tenha mais direito do que o outro. O brasileiro tem uma mentalidade racista, que precisa ser combatida.” Quem afirma é o jurista Fábio Konder Comparato, professor titular aposentado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), hoje integrante da Comissão Arns, organização da sociedade civil que atua na defesa dos direitos humanos. “O vício da desigualdade no país atinge sobretudo os negros. Os brancos possuem um rendimento 40% maior do que eles. É uma inferioridade evidente ainda hoje quanto à educação, emprego, saúde”, conclui.
Curiosamente, Comparato descende do comendador Joaquim José de Souza Breves (1804-1889), um dos maiores proprietários de escravos do Brasil Império, conhecido também como o Rei do Café.
 Jurista Fábio Konder Comparato, herdeiro de um dos maiores proprietários de escravos do Brasil. Foto: Sérgio Silva/Wikimedia Commons
Jurista Fábio Konder Comparato, herdeiro de um dos maiores proprietários de escravos do Brasil. Foto: Sérgio Silva/Wikimedia Commons
Segundo o historiador Thiago Campos Pessoa Lourenço, em sua tese O império dos Souza Breves nos Oitocentos, a família era dona de 20 fazendas, onde plantava majoritariamente café, e de mais de 6 mil pessoas escravizadas. Em 1860, 1,5% do volume de grãos de café exportado pelo Império era produzido nas fazendas da família. Próximo do imperador d. Pedro I, o fazendeiro adquiriu a insígnia de Comendador da Ordem da Rosa, um dos vários títulos honoríficos da Coroa naquela época.
Diziam que era possível ir de Minas Gerais até o oceano Atlântico passando pelas terras do comendador Breves, que se estendiam pelos atuais municípios fluminenses de Mangaratiba, Resende, Barra Mansa e Rio Claro e pelos municípios paulistas de Bananal e Areias. Apesar disso, sua fortuna não resistiu à abolição da escravatura, em 1888.
O jurista soube do parentesco através de sua mãe, Maria Sulamita Konder Comparato, de ascendência alemã, que se casou com seu pai, Antonio Comparato, imigrante italiano vindo da Sicília, conhecido por Antonino, dada a sua baixa estatura. “Minha mãe não tinha muito interesse nessa história. O que acontece é que a família Konder teve alguns casamentos com famílias tradicionais do Sul – ela nasceu em Santa Catarina –, e entre essas ligações há esse parentesco com o comendador Breves. Minha mãe deveria ser bisneta ou tataraneta dele”, ele calcula.
Os Konder eram mais abonados que os Comparato e davam mais importância à educação. “Eles chegaram no começo do século 19, e os Comparato, mais no final do século, em Santos, litoral de São Paulo, em 1893”, lembra ele, que nasceu na mesma cidade.
“Em Santos havia certa prosperidade para os imigrantes, mais tarde meu avô comprou o Grande Hotel Guarujá. Meu pai nunca foi um homem rico, nunca teve propensão para ganhar dinheiro, mas guardou tudo o que recebeu de herança. Ele não estudou, não era formado, era um homem conservador. Minha mãe foi uma das primeiras mulheres a cursar direito da USP. A família dela dava muita importância para a educação, mas depois do casamento acabou não se formando por causa do meu pai. Seria impossível ela formada, ele, não”, diz. Porto de Santos, importante ponto de escoamento da produção do interior do estado de São Paulo e de entrada de escravos e imigrantes. Foto: Reprodução Porto de Santos.
Porto de Santos, importante ponto de escoamento da produção do interior do estado de São Paulo e de entrada de escravos e imigrantes. Foto: Reprodução Porto de Santos.
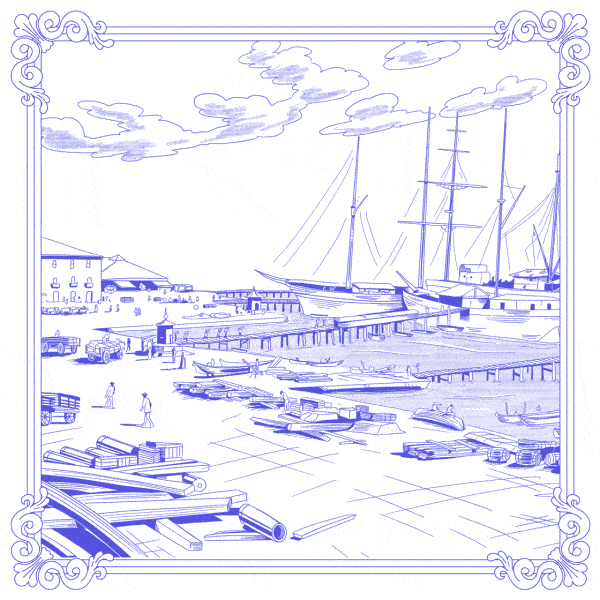 Porto de Santos, importante ponto de escoamento da produção do interior do estado de São Paulo e de entrada de escravos e imigrantes. Foto: Reprodução Porto de Santos.
Porto de Santos, importante ponto de escoamento da produção do interior do estado de São Paulo e de entrada de escravos e imigrantes. Foto: Reprodução Porto de Santos.A família de Maria Sulamita acabou se envolvendo com a política em Santa Catarina. Vitor Konder foi ministro da Aviação e de Obras Públicas de Washington Luís, de 1926 a 1930. Arno Konder se tornou diplomata. Antonio Carlos Konder Reis e Jorge Konder Bornhausen foram governadores de Santa Catarina, o primeiro entre 1975 e 1979 e o segundo entre 1979 e 1982. “Eu soube mais tarde, estudando história, que meu tio-avô tinha sido ministro da Aviação”, conta Comparato.
Vem do tempo em que cursava direito no largo São Francisco o interesse de Comparato por diferentes aspectos da vida da população negra no Brasil em relação à população branca – e, por isso, era acusado de comunista. “Tinha alguns professores conservadores, reacionários, estávamos em plena ditadura, e eles me chamavam de comunista porque eu defendia os pobres.” Esse interesse veio também de sua proximidade com a Igreja Católica. Ele era um católico fervoroso então, hoje não mais, e com o cardeal dom Paulo Evaristo Arns, arcebispo de São Paulo.
 Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Foto: Wikimedia Commons.
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Foto: Wikimedia Commons. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Foto: Wikimedia Commons.
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Foto: Wikimedia Commons.
Durante o período mais difícil da ditadura, dom Paulo costumava procurá-lo para que defendesse pessoas perseguidas. “Eu o auxiliei em várias ocasiões, ele era um homem admirável”, lembra. “Além disso, naquela época a grande preocupação da Igreja era com os miseráveis, com aqueles que precisavam de auxílio. Foi quando entendi que os mais miseráveis eram, na sua grande maioria, os descendentes de africanos. E essa história é terrível.”
O jornalista Laurentino Gomes, autor da trilogia de livros Escravidão, calcula que, durante quase três séculos e meio, 12,5 milhões de africanos foram traficados para as Américas e, destes, 40% vieram para o Brasil, perto de 5 milhões de pessoas.
Essa consciência a respeito das diferenças socioeconômicas entre os brasileiros brancos e negros o levou a montar uma importante biblioteca sobre a escravidão. “Fui o único da minha família a ter esse tipo de preocupação. Meu pai, por exemplo, imigrante siciliano, sempre teve um desprezo profundo pela população negra. Não sei por quê. O racismo não tem nenhuma racionalidade. Ele não tinha vergonha de dizer que era racista, achava que era certo pensar assim. Isso me impactou”, relembra.

Um dos livros que leu, ainda jovem, foi Casa-grande & senzala, do sociólogo pernambucano Gilberto Freyre, publicado em 1933, que durante décadas disseminou a ideia de que o Brasil era uma democracia racial, um país onde não havia racismo. “Eu acreditei nisso, depois fui me aprofundando no assunto. Penso que existe certa confusão. O brasileiro acredita que o racismo foi horrível nos Estados Unidos porque lá eles não escondem minimamente o racismo. E há quem sustente que tivemos uma escravidão branda. O nosso racismo sempre foi meio encoberto e ainda hoje está no subconsciente dos brasileiros. É um sentimento cruel e dissimulado. Ele está sempre escondido”, reflete.
E completa: “Nesse particular eu acho que o velho Montesquieu tinha razão: em se tratando de costumes e mentalidades, a lei é absolutamente inócua. O que muda é a educação. E a educação no Brasil sempre foi desprezada”, ele diz, fazendo referência ao filósofo, político e escritor francês que viveu entre 1689 e 1755.
De acordo com o último censo, de 2022, hoje o país tem pouco mais de 203 milhões de habitantes, dos quais 45,3% são pardos, 43,5% são brancos e 10,2% são pretos. “Penso que esses números podem não ser exatos porque certamente há muitos negros que não dizem que são negros.” Comparato comenta, referindo-se ao fato de que no Brasil é o indivíduo que declara a sua cor para pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É a chamada autodeclaração racial, e ele pode escolher entre cinco opções: branca, preta, amarela, parda ou indígena. Nos Estados Unidos, os negros são 13% da população.
A história da escravidão no Brasil e nos Estados Unidos é bem diferente, a começar pelo tempo em que existiu em cada um dos países. Enquanto africanos foram mantidos como escravos no Brasil durante quase quatro séculos, nos Estados Unidos a escravidão durou 140 anos e foi abolida em 1863. E se aqui os negros (pretos e pardos) são 55,5% da população, portanto, a maioria, nos Estados Unidos eles são apenas 13%. “O Brasil sempre esteve mais voltado para os povos europeus, agora nos aproximamos dos americanos, ou seja, não queremos ser amigos de povos pobres, queremos ser amigos dos ricos.”

Embora tenha se dedicado ao assunto, doutor Comparato não participou de grupos ou de movimentos antirracistas. “Nunca fui de me aproximar das pessoas. Tive poucos amigos na vida”, ele conta. Mas teve longas conversas a respeito do assunto com o embaixador Rubens Ricupero, um de seus grandes amigos, com quem dividia as mesmas preocupações em relação ao racismo vigente no Brasil. “Ele foi meu colega de turma na São Francisco, também era descendente de italianos, do sul da Itália, também era católico. Ele vinha à minha casa, trocávamos livros.”
Hoje, passados 136 anos desde a abolição da escravatura, ele vê avanços em relação à luta antirracista no país. Mas não muitos. “Avançamos, mas bem lentamente. As cotas foram uma boa medida, embora tenham sido atacadas por brancos reacionários. Elas não visam dar qualquer superioridade para os negros, mas sim colocá-los em situação de igualdade. Ainda existe na mentalidade brasileira um desprezo pelos negros, consequência evidente dos mais de três séculos de escravidão. O branco ainda se considera superior, e não é possível afastar esse sentimento por uma imposição”, diz.

Ele reforça sua crença na importância da educação para que a sociedade finalmente mude e se transforme. “Não tive colegas negros na classe, mas a maior parte das empregadas domésticas eram negras. Falta educação ao Brasil. Sempre faltou. Falta compreender a importância que os negros tiveram na história do Brasil.” Comparato exemplifica: no Brasil Império, os escravizados não estudavam, só trabalhavam: “Até a metade do século 19, até 1850, a economia brasileira era quase que exclusivamente movida pelo braço escravo. Outra coisa que sempre me incomodou é que a escravidão tinha uma lei penal incomparavelmente mais cruel para os negros. A pena de açoite, que provocava lesões graves, foi abolida no Brasil em 1885, ou seja, três anos antes da abolição”.
Se a sociedade como um todo avançou tão pouco, o que deve ser feito? “Eu nunca vivi na condição em que a população negra vive, tive privilégios. Para que o racismo seja eliminado é preciso atacar os privilégios dos brancos. É preciso que os brancos entendam que negros são seres humanos. É preciso que o governo faça como a Igreja fazia na época de dom Paulo, quando ela olhava para os pobres. É preciso política educacional.”
É longa a lista para que o Brasil se torne menos injusto. Apesar dos avanços da luta antirracista, ainda hoje a pele negra chega antes e define destinos de vida ou morte em relação aos pretos e pardos.



